

Ao nos concentrarmos nas reflexões éticas de Plotino, tomamos contato com toda uma tradição
anterior a ele. Desde Platão até os estoicos, Plotino os retoma e procurar ir além do que eles disseram, compondo vários tratado. Um deles é o Tratado 46, Sobre a Felicidade, por meio do qual ele leva a ver que, mesmo que tenhamos nos tornado sábios, seremos afetados pelos males, ainda que não de todo, e mesmo assim continuaremos a ser felizes. Por isso, devemos conviver com os males. Mas essa convivência, que para o sábio não é aterrorizante como o é para as outras pessoas, só é possível se praticarmos as virtudes.Os prazeres, por sua vez, não acrescentam nem diminuem coisa alguma na posse da vida feliz, mas são como que resultados desta. Portanto, podem ser desfrutados também, mas podem ser deixados de lado quando necessário, dado que o prazer do sábio não se encontra nos bens primários ou não, mas sim na serenidade que se encontra em seu interior. Assim, o sábio desfruta da felicidade tanto no âmbito sensível quanto do inteligível.
Palavras-chave: Felicidade. Sábio. Vida. Prazeres.
Edvaldo Ribeiro de Souza
Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo; neuropsicopedagogo institucional;
e-mail: edvaldosouza1283@gmail.com.
Baixar artigo:A FELICIDADE NO TRATADO 46 DE PLOTINO

Agostinho é um dos poucos pensadores do mundo tardo-antigo a oferecer uma reflexão profunda e densa sobre a paz. O presente estudo pretende descobrir qual é a concepção que o bispo de Hipona tem sobre esse bem. Para atingir esse objetivo, toma-se como objeto material o livro XIX da obra A Cidade de Deus, considerado por muitos estudiosos como um verdadeiro hino em favor da paz. Na visão de Agostinho, a paz é uma aspiração de todo ser humano, de todo povo, de todo ser. Ela consiste na tranquillitas ordinis. A ordem é aquela disposição que garante às coisas diferentes e às coisas iguais o lugar que lhes corresponde. Com isso, Agostinho postula uma verdadeira escala da paz: a do corpo é a ordem harmoniosa de suas partes; a da alma irracional é a ordenada quietude de suas apetências; a paz doméstica é a concórdia no bem, que se cumpre no mandar e no obedecer dos que vivem juntos; a paz de uma cidade é a concórdia bem ordenada no governo e na obediência de seus cidadãos; a paz do homem com Deus é a obediência bem ordenada segundo a fé sob a lei eterna. Ao definir a paz como tranquillitas ordinis, Agostinho revela uma noção que inspira e domina o seu pensamento moral. Existe um universo hierarquicamente construído, composto de naturezas que se estendem do mais baixo nível de ser corpóreo até ao ápice da criação. Neste horizonte, o homem ocupa um lugar único e singular. A vida moral, neste caso, consiste numa vida bem ordenada, numa escolha correta dos bens criados por Deus. A preservação dessa ordem da paz na sociedade humana depende da obediência às seguintes normas: primeiro não fazer mal a ninguém; segundo, socorrer a todos os que padecem necessidade.
Palavras-chave: Agostinho. Deus. Paz. Tranquilidade. Ordem.
Adriano São João
Doutor em Teologia pela PontificiaUniversità Gregoriana (Roma-Itália); mestre e doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; docente na Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG);
e-mail: asaojoao@yahoo.com.br.
Baixar artigo:A PAZ NO LIVRO XIX DA OBRA AGOSTINIANA A CIDADE DE DEUS

Neste artigo, por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa, estuda-se a concepção acerca do problema do mal exposta por Agostinho, que, partindo do maniqueísmo e neoplatonismo, cria um sistema teológicofilosófico que salvaguarda a bondade de Deus e responsabiliza o homem pela existência do mal ante o seu mau uso do livre-arbítrio.A tese agostiniana apresenta o mal como privação do ser e desordem moral
Palavras-chave: Agostinho de Hipona.Deus. Mal. Moral.
Diogo Donizete Carvalho
Bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG); docente na Rede Estadual de Minas
Gerais; e-mail: diogo.d.carvalho@hotmail.com.
Giovanni Marques Santos
Doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PR);mestre em Teoria e História
Literária pela Universidade Estadual de Campinas (SP); professor adjunto da Faculdade Católica de Pouso
Alegre (MG).
Baixar artigo:A PROBLEMÁTICA DO MAL EM AGOSTINHO DE HIPONA

Objetiva-se, neste artigo, discutir a relação entre o ego cartesiano, a negação do outro e as consequências desses processos, particularmente no século XX, dialogando com a filosofia de Enrique Dussel e de Hannah Arendt.É imperioso refletir o surgimento do pensamento de exclusão do Outro e o fechamento do sujeito em si mesmo, desse modo, os contextos da Segunda Guerra Mundial, apresentam-se oportunos para compreender a negação do Outro. Reflete também o papel da linguagem, da propaganda e da ideologia durante regimes totalitários, como o nazismo, onde tais instrumentos foram utilizados para propagar ideias racistas e justificar a exclusão e perseguição a grupos específicos. A falta de escuta e o não reconhecimento do outro levam à exclusão, preterindo a importância de estabelecer uma verdadeira relação de empatia. A análise enfatiza a necessidade de reconhecer a condição humana do próximo, transcender preconceitos e estereótipos e promover uma compreensão mais profunda e respeitosa do Outro.
Palavras-chave: Alteridade. Negação. Outro.
Antônio Gilberto Balbino
Doutor em Educação pela Universidade São Francisco (SP); docente na Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG);
e-mail: agbalbino1313@gmail.com.
Luiz Paulo Reis Lopes
Bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG); e-mail: lopes.lp@protonmail.com.
Samuel Medeiros Silva
Licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano (SP); e-mail: samuel.meedeeiros@gmail.com.
Baixar artigo:ALTERIDADE E RESPONSABILIDADE ÉTICA: Uma análise filosófica sobre a negação do outro segundo Enrique Dussel e Hannah Arendt

Desde el tema acerca de la polisemia del “cansancio” en el pensamiento de Han, se profundiza elementos filosóficos con miras a propuestas acerca de un nuevo humanismo, que necesita considerar los dolores y las posibilidades existenciales del hombre actual. Con esto, se trata de verificar la hipótesis de que Han, al caracterizar la sociedad del siglo XXI y el cansancio del hombre, presenta, desde su comprensión de vita contemplativa, elementos para un nuevo humanismo. Para probar esta hipótesis, se proponen tres miradas: la sociedad, el hombre y el camino. La mirada a la sociedad será un paso introductorio para presentar Han y su reflexión acerca de las problemáticas de la sociedad capitalista occidental y neoliberal contemporánea. Luego, la mirada al hombre expondrá el tema del cansancio considerado por el coreano, para verificarlo como dolor y posibilidad existencial. Al final, la mirada al camino será una caracterización acerca de lo que es posible hacer hoy, desde las condiciones y límites de la sociedad y del hombre destacados en las miradas anteriores, para apuntar algunas propuestas hacia un nuevo humanismo.
Palavras-chave: Cansancio. Humanismo. Byung-Chul Han.
Thiago de Oliveira Raymundo
Doutorando em Filosofia pelaPontificiaUniversidad Católica Argentina (UCA); mestre em Desenvolvimento,Tecnologias e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI);
e-mails: thiraymundo@hotmail.com; thiagoraymundo@uca.edu.ar.
Baixar artigo:LA SOCIEDAD, EL HOMBRE Y EL CAMINO: Miradas hacia un nuevo humanismo desde el pensamiento de Byung-Chul Han

Si bien son desarrollos filosóficos epistemológicamente distintos, parece haber posibilidades de proximidad entre la reflexión de Byung-Chul Han sobre el cansancio (Müdigkeit) y el pensar latinoamericano de Juan Carlos Scannone, específicamente en sus ideas sobre el “nosotros estamos”. Así, para comprobar esta hipótesis, se seguirán los siguientes pasos: la descripción del pensamiento de Scannone sobre el punto de partida de la filosofía latinoamericana, con énfasis en el “nosotros estamos”; la explicación de las consideraciones de Han sobre el cansancio y las alternativas para salir de esta condición y la presentación de posibles aproximaciones entre el pensamiento de los dos filósofos. Como este ejercicio se desarrolla en un campo filosófico-teológico, al final se propondrán posibilidades pastorales hacia al “nosotros estamos” y la “sociedad del cansancio”, para señalar una perspectiva de acción pastoral desde este diálogo filosófico.
Palavras-chave: Cansancio. Byung-Chul Han. Nosotros estamos. Juan Carlos Scannone.
Thiago de Oliveira Raymundo
Doutorando em Filosofia pelaPontificiaUniversidad Católica Argentina (UCA); mestre em Desenvolvimento,Tecnologias e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI);
e-mails: thiraymundo@hotmail.com; thiagoraymundo@uca.edu.ar.
Baixar artigo:“NOSOTROS ESTAMOS” Y CANSANCIO: Aproximaciones entre Juan Carlos Scannone y Byung-Chul Han

La cultura del libro contemporánea, influida por las plataformas digitales de extracción de datos y los algoritmos, pasa por transformaciones. Sobre esto, es importante la reflexión de HérnanVanoli, que intenta comprender los modos, condiciones y posibilidades de producción, circulación y recepción de la literatura en tiempos de transformaciones, en una contemporaneidad acelerada y dominada por lógicas algorítmicas de procesamiento de datos. Esta perspectiva parece estar cerca del pensamiento filosófico de Byung-Chul Han, principalmente su reflexión sobre las no-cosas (Undinge) y el cansancio (Müdigkeit). Aunque son pensamientos epistemológicamente diferentes, uno más del campo de la literatura y la sociología y el otro más filosófico, parece haber posibilidades de proximidad entre los dos pensadores. Para probar esta hipótesis de acercamiento, se seguirán los siguientes pasos: la caracterización de la literatura actual, influenciada por las plataformas virtuales de extracción de datos, la lógica algorítmica y la hipercomunicación; la descripción de los rasgos del escritor contemporáneo, considerado bioprofesionalizado y cansado, y la exposición de las posibilidades de la literatura en esta coyuntura actual
Palavras-chave: Literatura. No-cosas. ByungChul Han. HérnanVanoli.
Thiago de Oliveira Raymundo
Doutorando em Filosofia pelaPontificiaUniversidad Católica Argentina (UCA); mestre em Desenvolvimento,Tecnologias e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI);
e-mails: thiraymundo@hotmail.com; thiagoraymundo@uca.edu.ar.
Baixar artigo:LA LITERATURA EN LA ERA DE LAS NO-COSAS A PARTIR DE HERNÁN VANOLI Y BYUNG-CHUL HAN

Na pós-modernidade vive-se a era de tecnologias avançadas, da globalização e do consumo em massa. A sociedade é marcada por novos comportamentos, baseados em valores hedonistas e individualistas, e por relacionamentos sem profundidade. O homem pós-moderno se voltou para seus desejos e caprichos, e se tornou indiferente às questões espirituais. Mas a busca pela satisfação dos desejos não trouxe a felicidade, mas sim, o vazio existencial, o tédio, a angústia e a depressão. O buraco que se formou foi a “saudade de Deus”, resultando em uma busca contemporânea por algo espiritual. Destaca-se pela explosão religiosa que se manifestou através da multiplicação de variadas e novas denominações religiosas.E, principalmente, nos momentos de crise, de dor e sofrimento que o“eu espiritual”, dimensão intrínseca à constituição humana, é chamado a emergir e buscar os valores que realmente valem a pena. Faz-se necessário que o ser humano vá além de si e veja no “outro” a possibilidade de encontrar sentidos autênticos de valores. A espiritualidade é o canal para que isto aconteça, e ela produz sentimentos positivos de alegria, entusiasmo e vontade de viver. Na espiritualidade cristã firma-se a fé na pessoa de Jesus Cristo que, de forma humanizadora, abre as portas do coração do homem para Deus e para o outro, e isto resulta no sentido da vida
Palavras-chave: Pós-modernidade. Crise. Sentido. Transcendência. Espiritualidade.
Edna Maria de Lima Silveira
Especialista em Psicologia e Espiritualidade pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG); especialista em Educação Especial Inclusiva pelo Centro Universitário Faveni;
e-mail: ednalimasilveira@gmail.com.
Vanildo de Paiva
Mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas; docente na Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG);
e-mail: vanildopaiva@hotmail.com.
Baixar artigo:ESPIRITUALIDADE CRISTÃ: Fonte de sentido em momentos de crise

O presente trabalho busca analisar as contribuições da psicoterapia EMDR na Formação Presbiteral. Para isso, será apresentada uma visão panorâmica desse processo, considerando a realidade da sociedade contemporânea, a partir da ótica de Zygmunt Bauman. Posto isso, o EMDR será contextualizado enquanto prática psicoterapêutica que foi criada pela psicóloga e educadora norte-americana Francine Shapiro, que percebeu a eficácia dos movimentos oculares no reprocessamento de traumas. Tendo como base que os jovens que ingressam no seminário podem carregar experiências traumáticas do passado ou podem adquiri-las no decorrer do processo formativo, serão apresentados meios para a aplicação dessa psicoterapia no seminário. Como instrumento metodológico, esta pesquisa se fundamenta na revisão-bibliográfica de fontes que corroboram para o aprofundamento da temática pesquisada.
Palavras-chave: Psicologia. Seminário. Maturidade. Saúde Mental.
Fabiano Maurício Dantas
Mestre em Teologia Bíblica pela Pontificia Università Gregoriana (Roma-Itália); presbítero da Diocese de Caicó (RN);
e-mail: pefabiano@gmail.com.
Gilma Chaves da Silva Tavares
Especialista em Saúde Mental, com ênfase em Dependência Química, Família e Comunidade,pela UNIFTC (BA); psicóloga clínica e psicoterapeuta EMDR e Brainspotting;
e-mail: gilmachaves.psi@gmail.com.
Uatos Pires Pereira
Especialista em Teologia Pastoral pela PUC Minas (MG); especialista em Juventude no Mundo Contemporâneo pela FAJE (MG); presbítero da Arquidiocese de Vitória da Conquista (BA);
e-mail: uatos@icloud.com.
Baixar artigo:CONTRIBUIÇÃO DA PSICOTERAPIA EMDR NA FORMAÇÃO PRESBITERAL

O presente artigo se põe no horizonte da avaliação de subsídios catequéticos, a partir da análise do itinerário catequético para a iniciação à vida cristã com adultos confeccionado pela Província Eclesiástica de Pouso Alegre (MG). Ressalta-se a importância do momento avaliativo dos materiais catequéticos produzidos como competência constitutiva dos saber catequético. Apresenta-seo subsídio, para, depois, a partir de critérios baseados nos documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre a catequese, avaliar a qualidade do mesmo. Quer-se dar especial atenção à catequese de iniciação com adultos e ao tema da avaliação de subsídios catequéticos, na certeza de que são temas importantes a considerar no atual momento da catequese brasileira.
Palavras-chave: Catequese com adultos. Iniciação à vida cristã. Pouso Alegre. Itinerário catequético.
Paulo Stippe Schmitt
Mestre e doutorando em Catequética pela Faculdade de Ciências da Educação da Università Pontificia Salesiana (Roma-Itália); presbítero da Arquidiocese de Florianópolis (SC);
e-mail: paulostippe@gmail.com.

Este artigo procura aproximar a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles das universidades. As escolas universitárias têm sido frequentemente designadas de academias. Assim, é realizado um estudo comparativo entre as referidas instituições para identificar seus principais pontos em comum. Na teoria, é no ensino superior onde se desenvolve o saber mais profundo, complexo e sistemático, e as universidades, a partir da Idade Média, passaram a representar a essência dessa aspiração. A Academia de Atenas, a seu tempo, mais que o Liceu, correspondia a esse esforço ideal de se pensar a realidade com mais rigor. A escola aristotélica, a seu turno, dedicou-se mais ao conhecimento instrucional, empírico e sistematizador, um prenúncio da atual sociedade especializada.
Palavras-chave: Ensino Superior. Academia de Platão. Liceu de Aristóteles. Universidades.
José Alfeu Wermann
Professor Titular da UNIASSELVI. Professor da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Graduação em Filosofia – UPF. Especialização em Sociologia Política – UNISINOS.
Fabrício Fonseca Machado
Graduação em Direito – UFPel. Graduação em andamento em Filosofia – UNISUL. Pós-graduação em Docência no Ensino Superior – UNIASSELVI. Pós-Graduação em Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia.
Baixar artigo: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE A ACADEMIA DE PLATÃO, O LICEU DE ARISTÓTELES E AS UNIVERSIDADES

O trabalho aborda o processo cognitivo de associação de ideias pela imaginação, com base no empirismo de David Hume, segundo o qual toda ideia provém de impressões sensíveis e é processada a partir de um movimento associativo que se estabelece na mente humana. Cabe, então, indagar como se dá esse processo, com o objetivo de (i) apontar a inversão metodológica exigida pelo empirismo, que, embora derive suas ideias de impressões sensíveis, tem como foco justamente a associação de ideias; (ii) explicar esse processo associativo a partir das faculdades da memória e da imaginação; e (iii) mostrar que a imaginação fomenta a associação de ideias, conferindo-lhe unidade ao conectá-las em ideias complexas. A conclusão para a qual se quer chegar é que a imaginação processa as ideias na mente humana e ultrapassa os limites do dado empírico, imaginando ideias que vão além daquilo que os elementos empíricos fornecem à percepção.
Palavras-chave: Hume; empirismo; natureza humana; ideias; imaginação.
André Luiz Olivier da Silva
Doutor em Filosofia e Professor dos Cursos de Graduação em Direito e Relações Internacionais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Bacharel em Filosofia e Direito; Advogado e, atualmente, Coordenador do Curso de Graduação em Direito da Unisinos.
Baixar artigo:A MENTE HUMANA E A IMAGINAÇÃO: TRANSPONDO OS LIMITES DO DADO EMPÍRICO

O artigo seguinte objetiva investigar o retrato do humanismo do século XIII desenvolvido pelo historiador Walter Ullmann. Busca desse modo oferecer uma contribuição ao debate relacionado ao desenvolvimento contemporâneo da historiografia acerca da filosofia medieval. À luz de pesquisas recentes, o artigo revisa os principais argumentos relativos ao humanismo medieval defendidos por Ullmann na conferência The humanistic thesis: The emergence of the citizen.
Palavras-chave: Walter Ullmann; História da filosofia medieval; Humanismo do século XIII.
Philippe Oliveira de Almeida
Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre e Bacharel em Direito pela mesma instituição. Bacharel em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia.
Vinicius de Siqueira
Graduando em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Este artigo tem o objetivo de identificar as ideias estruturantes da Biologia a partir da reconstituição histórica do desenvolvimento do conhecimento sobre os seres vivos no século XIX. Tal reconstituição identificou que o desenvolvimento da Biologia partiu de duas diferentes visões de mundo: a natureza vista como mecanismo (de Descartes e Newton) e a natureza como processo em constante transformação (de Hegel). A primeira subsidiou a prática experimental desenvolvida nos laboratórios, se preocupou com o organismo e foi responsável por grande parte das teorias que constituíram a Biologia. A segunda sustentou as atividades dos naturalistas e se preocupou com as populações e, igualmente, forneceu grande parte das teorias biológicas. A reconstituição histórica permitiu concluir que as ideias estruturantes da Biologia que se originaram das práticas experimentais deram origem a: a teoria celular, a teoria do equilíbrio interno e as leis da herança. Quanto às atividades dos naturalistas, estas forneceram a teoria da seleção natural e a teoria ecológica.
Palavras-chave: Biologia, Fundamentação histórico-teórica, Filosofia da Ciência.
Antonio Fernandes Nascimento Junior
Doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e Doutor em Educação para a Ciência pela Faculdade de Ciências, UNESP – Bauru, São Paulo. Professor Adjunto do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras-MG.
Daniele Cristina de Souza
Doutora em Educação para a Ciência, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, UNESP, campus Bauru. Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Londrina – PR. Professora Adjunta do Departamento de Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Baixar artigo:A BUSCA DAS IDEIAS ESTRUTURANTES DA BIOLOGIA NA HISTÓRIA DO ESTUDO DOS SERES VIVOS NO SÉCULO XIX

A evidência em sentido primário é a característica do ato perceptivo que colhe de maneira imediata um objeto intencional, produzindo assim uma convicção de verdade. Tal convicção pode-se exprimir em uma proposição dita evidente ou imediata. O conhecimento evidente é um fenômeno cognitivo natural. Algumas cognições evidentes são naturais, ao ponto que ser privado delas pode ser sintoma de uma situação patológica. A maior parte dos nossos conhecimentos evidentes, de qualquer modo, é adquirida. O artigo propõe a educação da capacidade cognitiva das pessoas, orientada a tornar possível uma percepção fácil das coisas óbvias.
Palavras-chave: Percepção, Evidência, Evidências naturais, Cognição imediata.
Juan José Sanguineti
Dottore in Filosofia. Professore Ordinario della Pontificia Università della Santa Croce – Roma.
Baixar artigo:A EVIDÊNCIA COMO COGNIÇÃO NATURAL E EDUCÁVEL

O primeiro efeito da introdução do aristotelismo na escolástica cristã foi a clara delimitação dos campos da razão e da fé. A razão é o campo de domínio das verdades demonstradas; a fé é o domínio das verdades reveladas. Averróis considerava que o aristotelismo continha tudo o que um filósofo deveria crer, que coincide com o que se pode demonstrar. Em outras palavras: a verdadeira religião do filósofo é a própria filosofia. Isto é, a religião revelada não é senão um modo imperfeito de aproximação das mesmas verdades para quem não é capaz de se utilizar do caminho da ciência e da demonstração. Há um pensamento comum de que Averróis defendera a dupla verdade: uma religiosa e outra filosófica. Este foi o caminho trilhado pelos averroístas, mas não por Averróis. Para ele, a verdade é uma só. Ele nunca defendeu a dupla verdade, porque considerava que a razão atingiria um conhecimento necessário. Quando ocorre um conflito entre ciência e religião (ou entre razão e fé), ele propõe revisar os procedimentos racionais para descobrir o erro e defender o direito do filósofo de continuar a investigação, mesmo que as conclusões possam ser contrárias aos ensinamentos da fé.
Palavras-chave: Averróis. Razão. Fé.
Paulo César de Oliveira
Doutor em Filosofia. Professor de Filosofia da Universidade Federal de Alfenas-MG.
Baixar artigo:AVERRÓIS E A RELIGIÃO DO FILÓSOFO

Trata-se, neste artigo, de uma análise do processo de desconstrução proposto por Jacques Derrida a partir do estabelecimento de um paralelo entre o pensamento do argelino e o estruturalismo apresentado por Victor Goldschmidt na obra A religião de Platão. Para o desenvolvimento do comentário utilizaremos os textos A escritura e a diferença, Torres de Babel, O monolinguismo do outro e Força de lei, com o objetivo de demonstrar como a desconstrução se dá na obra do filósofo da desconstrução. O texto se divide em três partes, abordando sucessivamente o embate entre o estruturalismo e a desconstrução, bem como o papel da linguagem para a desconstrução e as consequências do pensamento de Derrida para a produção filosófica.
Palavras-chave: Estruturalismo, Desconstrução, Linguagem, Derrida.
Edilamara Peixoto de Andrade
Mestranda em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Baixar artigo:ENTRE O ESTRUTURALISMO E A DESCONSTRUÇÃO: UMA REFLEXÃO ACERCA DO PENSAMENTO DE JACQUES DERRIDA EM FORÇA E SIGNIFICAÇÃO

O presente artigo pretende compreender, à luz do pensamento filosófico de Leo Strauss, a relação do homem com o sagrado, por meio do desenvolvimento de uma análise histórica acerca de como o homem ocidental estabeleceu modos de lidar com Deus (ou com os deuses), desde as primeiras sociedades até a contemporaneidade. Nosso intuito, com essa abordagem, é evidenciar o papel fundador da religião no terreno da vida humana e da organização da sociedade, corroborando a concepção straussiana segundo a qual existe uma relação essencial entre moralidade e religião. Num segundo momento, procuraremos efetuar uma análise de como as tradições filosóficas e os filósofos abordaram a questão de Deus no contexto do pensamento moderno. Nesse âmbito, desejamos apresentar o impacto das críticas à religião que surgem com o advento da modernidade e o tipo de sociedade que emerge a partir do estabelecimento de valores como o racionalismo, o humanismo e o antropocentrismo.
Palavras-chave: Filosofia, Sagrado, Leo Strauss, Modernidade.
Elvis de Oliveira Mendes
Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Baixar artigo:A FILOSOFIA E O FENÔMENO DO SAGRADO: LEO STRAUSS E O PAPEL POLÍTICO DA RELIGIÃO

A proposta deste artigo, como diz o seu próprio título, é refletir sobre a educação. Essa reflexão, no entanto, será fundamentada a partir das ideias de Rousseau, o que significa dizer, em termos gerais, que não se trata de pensar e apresentar um modelo de programa educacional para a sociedade presente, mas sim de desafiar e criticar a cultura de um modo geral.
Palavras-chave: Conhecimento; Natureza; Sociedade; Virtude.
José João Neves Barbosa Vicente
Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
Baixar artigo:A EDUCAÇÃO COMO DESAFIO E CRÍTICA À CULTURA

O texto aborda as contribuições do pensamento idealista de Platão, do realismo de Maquiavel e do ceticismo de Montaigne a partir da possibilidade de construção de vários mundos possíveis. Trata-se de uma tentativa de olhar para Filosofia Política e resgatar os pensamentos clássicos da antiguidade à modernidade destacando suas contribuições normativas para a compreensão da vida social. A questão central que se pretende explorar é como esses pensadores clássicos concebem o conhecimento filosófico e qual a determinação que este possui na formulação de suas respectivas teorias políticas. Acredito que o atual momento político que estamos vivendo pode ser mais bem analisado se pensarmos na construção de novas realidades políticas que combinem um desejo idealista, uma atitude realista e em certas circunstâncias um olhar cético.
Palavras-chave: Idealismo, Realismo, Ceticismo e mundos possíveis.
Pâmela S. M. Esteves
Doutora em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Baixar artigo:IDEALISMO, REALISMO E CETICISMO: CONCEPÇÕES DE MUNDOS POSSÍVEIS

O objetivo deste artigo é examinar os limites da razão, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, apontados por Montaigne no ensaio Apologia de Raymond Sebond. Segundo o filósofo, tais limites resultam em um discurso sobre Deus de cunho eminentemente antropomórfico. De forma adjacente, Montaigne aponta a falibilidade da razão humana e o desmesurado e paradoxal orgulho do homem em relação a sua capacidade epistêmica.
Palavras-chave: Deus; Montaigne; Razão; Religião.
Luiz Fernando Pires Dias
Mestre em Ciências da Religião e Bacharel em Filosofia pela PUC-Minas.
Baixar artigo:MONTAIGNE: A CRÍTICA À NARRATIVA RACIONAL DE DEUS

As filosofias de Schopenhauer e Kant se interconectam em diversos pontos. Meu objetivo é mostrar como boa parte das críticas à filosofia kantiana presentes em O Mundo como Vontade e Representação pode ser mais bem compreendida como uma divergência metodológica. Nesse sentido, sigo a sugestão de Paul Guyer (1999), para quem Schopenhauer produz uma “filosofia transcendental sem argumentos transcendentais”. Com efeito, tentarei mostrar que Schopenhauer aceita o núcleo da filosofia transcendental kantiana, qual seja, o fato de que nosso conhecimento representativo é determinado por espaço, tempo e causalidade; no entanto, o autor fundamenta tais princípios por um método direto, sem recorrer às deduções transcendentais de Kant. Nesse texto, analisarei o modo como os autores fundamentam de modo divergente a lei de causalidade. Com isso, pretendo explicitar a virada metodológica de Schopenhauer como a raiz das diferenças mais amplas entre os dois projetos filosóficos.
Palavras-chave: Schopenhauer; Kant; Método; Causalidade.
Renato Cesar Cani
Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/CAPES).
Baixar artigo:MÉTODO E CAUSALIDADE EM SCHOPENHAUER E KANT

O presente artigo tem como objetivo principal analisar os problemas do idealismo subjetivo e objetivo apontados na dialética hegeliana e, através de seu estudo, demonstrar que, na medida em que se aprofunda a análise da filosofia de Hegel, estes problemas revelam-se como sendo apenas pseudoproblemas, que vão se dissipando ao longo do movimento dialético hegeliano.
Palavras-chave: Idealismo subjetivo, Idealismo objetivo, Dialética hegeliana.
Michele Borges Heldt
Doutoranda em Filosofia pela Unisinos. Bolsista do programa Capes-Prosup.
Baixar artigo:O PSEUDOPROBLEMA DO IDEALISMO SUBJETIVO E OBJETIVO EM HEGEL


Trata-se de uma edição compilatória das edições do Mercure de France, disponível na web, via “Google Recherche de Livres” https://books.google.fr/. Atestamos que é uma obra de domínio público em efeito da sua antiguidade, conforme assinala a fonte originária: « Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public ».
André Queiroz de Lucena
Doutorando em Filosofia pela Unifesp.
Baixar artigo: Carta sobre o tema do Discurso do senhor J.-J. Rousseau sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens

O presente trabalho é um olhar sobre a história da filosofia e história da ciência visando identificar a associação entre as mudanças histórico-culturais que ocorreram no século XVIII e a visão de mundo construída pela filosofia iluminista e kantiana. Neste contexto, compreende-se a preocupação dos iluministas na difusão dos métodos elaborados para a compreensão do mundo, assim como o papel das sociedades científicas na articulação da ciência à burguesia. A realização deste caminho foi feita, principalmente, para refletir sobre o avanço das ciências da vida ao longo das condições históricas deste período, juntamente com algumas das principais questões que orientaram os estudos de campo e de laboratório dos naturalistas do período. As questões das ciências da vida trazidas foram as seguintes: a origem e diversidade dos seres vivos, a classificação biológica, a eletrofisiologia, os estudos sobre o metabolismo e o debate entre o pré-formismo e a epigênese.
Palavras-chave: Filosofia da ciência; História da ciência; Ciências da vida.
Antonio Fernandes Nascimento Júnior
Professor Adjunto da Universidade Federal de Lavras. Doutor em Educação para a Ciência (UNESP) e Doutor em Ciências (USP).
Daniele Cristina de Souza
Professora Adjunta da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Doutora em Educação para a Ciência, (UNESP).
Baixar artigo: UM OLHAR SOBRE O ESTUDO DOS SERES VIVOS NO SÉCULO XVIII: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO BIOLÓGICO

O presente artigo tem por objetivo demostrar a concepção de Sartre de imagem e, com isso, estabelecer a mudança adotada pelo filósofo com relação à tradição metafísica. Será detalhado também três características fundamentais da imagem na concepção da fenomenologia. A reflexão sobre a imagem em seus novos termos culminará na abordagem da obra de arte como produção do imaginário, ou seja, como fuga do real. Entretanto, será demostrado que essa fuga não se dá completamente e que a liberdade da criação sempre se dá de maneira situada. Por fim, para definir a liberdade situada, será abordada a noção de engajamento e os novos caminhos de pensamentos abertos a partir da reflexão sartreana sobre a arte.
Palavras-chave: Sartre. Imagem. Fenomenologia. Obra de arte. Engajamento.
Daniel Pereira de Mello
Mestrando em Filosofia pela UFES.
Baixar artigo:A REFLEXÃO SOBRE A IMAGEM E SUA RELAÇÃO COM A OBRA DE ARTE NO PENSAMENTO DE JEAN-PAUL SARTRE

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o papel do ceticismo na História da Filosofia, salientando seus aspectos históricos e estruturais considerados fundamentais para uma compreensão adequada desta corrente filosófica do helenismo. De modo específico, pretende-se tornar clara a importância da equipolência e da suspensão do juízo na metodologia cética e refletir como o ceticismo, em sua estrutura nascente, não se constitui numa filosofia ingênua e autorrefutativa, muito menos descompromissada com a verdade, como se caísse em um relativismo de caráter sofístico. Por fim, procura-se salientar os pressupostos céticos considerados basilares para o nascimento da Filosofia Moderna, que influenciaram diretamente pensadores dos séculos XVI e XVII, de forma especial o filósofo francês Michel de Montaigne, cujo ensaio Apologia de Raymond Sebond parece constituir-se em um grande dilema cético, levantando questões pertinentes, abrindo espaço para leituras interpretativas diferenciadas e gerando incômodos céticos presentes nos ambientes acadêmico-filosóficos até os dias de hoje.
Palavras-chave: Ceticismo, Suspensão do Juízo, Equipolência, Sexto Empírico, Montaigne.
Elvis Rezende Messias
Mestrando em Educação pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG. Graduação e especialização em Filosofia pela Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. Docente no Seminário Nossa Senhora das Dores, Diocese da Campanha-MG e na rede pública do Estado de Minas Gerais.
Baixar artigo:CETICISMO E FILOSOFIA MODERNA: A IMPORTÂNCIA DA EQUIPOLÊNCIA E DA SUSPENSÃO DO JUÍZO

Nosso objetivo principal é desenvolver a compreensão do conceito existenciário de historicidade, no âmbito do gestar-se próprio do Dasein, tal como Heidegger explicita na na analítica existencial de Ser e Tempo. Primeiramente, busca-se discutir o conceito vulgar de historia em contraste ao qual o filósofo apresenta o gestar-se da existência. Após, trataremos do conceito de temporalidade originária, apontando para o âmbito no qual a existência sai da impessoalidade para o ser-resoluto. Por fim, apresentaremos a compreensão heideggeriana do conceito de historicidade própria, desenvolvendo o modo pelo qual o Dasein assume seu destino no gesta-se de si mesmo enquanto resoluto. Nesse desenvolvimento, acreditamos explicitar que a preocupação principal do filósofo não está na mera análise abstrata do existir, mas, muito mais, no papel da existência na continuidade do tempo histórico.
Palavras-chave: Dasein. Heidegger. Historicidade. Temporalidade.
Jean Tonin
Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.
Baixar artigo:A CONSTITUIÇÃO EXISTENCIÁRIA DA HISTORICIDADE PRÓPRIA NA ANALÍTICA EXISTENCIAL DE SER E TEMPO

Neste texto, traço como objetivo central o ato de busca de conhecimento a respeito da teoria metaética do prescritivismo universal elaborada pelo filósofo inglês Richard M. Hare. Para tanto, num primeiro momento busco realizar uma leitura condensada da tese do prescritivismo universal. Logo em seguida, fazemos o esforço de investigar a hipótese referente à categoria da universalizabilidade presente na teoria metaética da Hare. Finalmente, trabalho o tópico concernente à lógica e ao dever na fundamentação das decisões no âmbito dos dilemas morais. Teço algumas reflexões nas considerações finais sobre os aspectos estudados ao longo do texto em relação aos juízos morais.
Palavras-chave: Prescritivismo. Universalizabilidade. Metaética. Juízo Moral.
Joel Decothé Junior
Mestre em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia (EST); Licenciado em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Especialização em Teologia pela Escola Superior de Teologia (EST).
Baixar artigo:O PRESCRITIVISMO UNIVERSAL NA TEORIA METAÉTICA DE RICHARD HARE

Neste artigo realiza-se um estudo introdutório das ideias educacionais de Paulo Freire. A pesquisa foi exclusivamente de caráter bibliográfico. Buscou-se responder à pergunta “o que é educação, para Paulo Freire?” e foram feitas análises iniciais das respostas encontradas. Para Freire, há duas definições de educação: uma geral e outra específica. A geral é: educação é uma concepção filosófica e/ou científica acerca do conhecimento colocada em prática. A específica depende da concepção de conhecimento freireana: o conhecimento é um processo social criado por meio da ação-reflexão transformadora dos humanos sobre a realidade. A definição de educação específica de Freire é: educação é o processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação-reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana. Segundo Freire, há duas espécies gerais de educação: a educação dominadora e a educação libertadora. A dominadora apenas descreveria a realidade e transferiria conhecimento; a libertadora seria ato de criação do conhecimento e método de ação-reflexão para a transformação da realidade. Os textos de Paulo Freire, como expressão da educação libertadora, teriam a finalidade de criar o conhecimento e de transformar-reinventar a realidade por meio da ação-reflexão do próprio Freire, da qual os textos seriam manifestação.
Palavras-chave: Paulo Freire, Educação, Filosofia.
José Junio Souza da Costa
Especialista em Docência do Ensino Superior pela UCDB/Portal Educação. Graduado em Filosofia (licenciatura) pela UFAM.
Baixar artigo:A EDUCAÇÃO SEGUNDO PAULO FREIRE: UMA PRIMEIRA ANÁLISE FILOSÓFICA

O objetivo deste artigo é apresentar o problema da relação entre fé e razão a partir da questão principal que a investigação filosófica sobre o tema levanta: a fé em Deus pode ser justificada racionalmente ou ela não passa de uma escolha pessoal, subjetiva, mero sentimento? É o problema de saber se o que realiza plenamente o ser humano (o crente, pelo menos) é ou não uma questão que possa ser discutida racionalmente, i.e., se se pode considerar a fé como um tipo de racionalidade, que tem seus próprios conceitos ou se a fé é irracional e incompatível com a razão.
Palavras-chave: Fé. Razão. Racionalidade hermenêutica.
Julian Batista Guimarães
Mestrando em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE). Bacharel e licenciado em Filosofia pela FAJE.
Baixar artigo:É A FÉ EM DEUS JUSTIFICÁVEL RACIONALMENTE?

O artigo propõe olhar para o eclodir do realismo lógico no século XIX. A tarefa a ser realizada é oportunizar uma reflexão acerca do realismo bolzaniano, cujo escopo é salientar os principais conceitos, em verdade, abordar-se-á a Teoria da ciência (Die Wissenschaftslehre) e, especialmente, a sua tese central de que “existem verdades em si”. Nesse itinerário, será oferecido ao honorável leitor uma visão do calcanhar de Aquiles do pensamento bolzaniano, apontado pelo psicólogo Franz Exner, por assim dizer, iniciador do psicologismo. Por fim, demonstrar-se-á o alcance do realismo lógico de Bolzano, isto é, se se diz que a polêmica Bolzano-Exner é a gênese, por outro lado, o zênite e, claro, o ponto final, é Edmund Husserl.
Palavras-chave: Realismo lógico. Psicologismo. Teoria da ciência.
Luis Sergio Conterato
Mestrando em Filosofia pela PUC/SP. Bolsista da CAPES. Bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre.
Baixar artigo:A AURORA DO REALISMO LÓGICO NO SÉCULO XIX: BERNARD BOLZANO

O presente artigo, derivada de pesquisa bibliográfica e pretende explorar alguns conceitos do pensado de Dewey e Herbart, sinalizando para a importância do pensamento destes pensadores, alguns pontos de convergência e divergência em suas propostas educacionais. O artigo pretende mostrar como os autores concebem a experiência educacional, suas considerações da experiência empírica e da tradição cultural na educação dos indivíduos. O texto pretende apontar que Dewey não é tão assistemático e Herbart tão formalista como muitas vezes são retratados pela história da educação. Ambas as propostas são diretivas sendo que Dewey intenciona o desenvolvimento de sujeitos democráticos e Herbart, de sujeitos morais.
Palavras-chave: Dewey. Herbart. Experiência. Educação.
Odair Neitzel
Docente na Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS; Doutorando em Educação (Linha de Fundamentos da Educação) pela Universidade de Passo Fundo – UPF.
Baixar artigo:EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL EM DEWEY E HERBART

O presente artigo possui por objetivo analisar a questão da alteridade no horizonte da linguagem em Merleau-Ponty. Após superar o espectro de uma linguagem pura, Merleau-Ponty realiza uma ressignificação da linguagem na medida em que possibilita a relação entre o Eu e o Outro por meio da irredutibilidade de sentido que a linguagem criadora proporciona. Trata-se, agora, de explicitar a camada de silêncio que perpassa pelo estofo das palavras, a qual servirá como gênese de criação de sentido pelos sujeitos falantes. Por fim, mostramos, entre outras coisas, como a questão da alteridade é forjada a partir da noção de intercorporeidade e emparelhamento.
Palavras-chave: Linguagem. Intercorporeidade. Alteridade. Merleau-Ponty.
Renato dos Santos
Mestrando em Filosofia pela PUC-PR.
Baixar artigo:LINGUAGEM E ALTERIDADE EM MERLEAU-PONTY

Linguagem e fé são dois elementos constitutivos da existência do ser humano. O filósofo Jean Ladrière busca articular linguagem e fé, partindo da sua adesão à concepção de linguagem como performativa e auto-implicativa e da palavra da fé cristã como um discurso diferenciado, tocado tanto pela compreensibilidade como pela incompreensibilidade. Sendo assim, a linguagem da fé se apresenta como uma linguagem marcada por acontecimentos, pela evocação do compromisso e do engajamento do crente em relação ao que proclama a fé e, ainda, por uma dimensão misteriosa, escatológica, repleta da esperança, da confiança do que ainda há de vir a se concretizar do que a fé anuncia. Uma abordagem desse tipo de linguagem lança desafios à reflexão filosófica, que só poderão ser enfrentados a partir de uma concepção específica da fé como dom e ratificação.
Palavras-chave: Linguagem. Fé cristã. Linguagem da fé.
Carlos Henrique Machado de Paiva
Mestrando em Filosofia pela FAJE.
Baixar artigo:LINGUAGEM E FÉ NA PERSPECTIVA DE JEAN LADRIÈRE

Este estudo propõe atualizar questões pertinentes da filosofia moral de Epicteto, aproximando-o da presente época. Mediante uma compreensão que supõe como possibilidade as seguintes hipóteses: a) a ética de Epicteto como condicionada a uma fundamentação antropológica; b) a ética de Epicteto encontra-se na tradição do pensamento antigo, fundamentalmente, como uma ética das virtudes. O artigo encontra-se dividido em três pontos principais. O primeiro: “antropologia estoica: o universalismo do logos” remete as justificativas que afirmam ser indissociável a antropologia da ética no conjunto do estoicismo, portanto, inclui-se Epicteto. O segundo ponto: “diálogo com Aristóteles: aproximação e ruptura” é desenvolvido a partir da análise de pontos cruciais da filosofia prática aristotélica, relacionando-a com o posicionamento ético de Epicteto. O terceiro: “introdução aos fundamentos da ética em Epicteto” analisa a possibilidade de compreender a filosofia prática de Epicteto, a partir de dois eixos teóricos: a noção interna de homem como consequência do logos e, portanto, como uma antropologia, o que confirma a primeira hipótese; e a perspectiva justificada como viável, (o que confirma a segunda hipótese), de compreender a ética em Epicteto, como uma ética das virtudes.
Palavras-chave: Deliberação (proaíresis/??????????). Domínio de si (enkrateia/ ??????????). Divisão (Diaíresis /?????????). Filosofia (?????????).
Gabriel Rodrigues Rocha
Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Graduado em História e em Filosofia.
Baixar artigo:FILOSOFIA E ÉTICA NO ESTOICISMO ROMANO DE EPICTETO

Este artigo trata de maneira histórica e filosófica as ideias que prepararam o surgimento da teoria geral dos sistemas e os principais autores que levaram a diante duas de suas teses principais, a saber, as similaridades entre organismo e sociedade e a interdependência entre partes e todo.
Palavras-chave: Indivíduo – Sociedade – Mecanicista – Orgânico – Sistêmico
Felipe Augusto de Luca
Mestre e Doutorando em Filosofia pela USP.
Baixar artigo:OBSERVAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE COMO UM SISTEMA

Neste artigo, tivemos o objetivo de analisar como o racionalismo ético limita a ética. Frente a este propósito, expomos a fonte trágica da ética de Aristóteles, para quem a ética não é ciência e não tem uma fonte metafísica. A revelação de Aristóteles mostrou como o seu pensamento ético, por ultrapassar o racionalismo filosófico, inaugura uma corrente de pensamento moral cuja modéstia é mais adequada à fragilidade da condição humana.
Palavras-chave: ética; ação; fortuna; eudaimonía; condição humana.
Harley Juliano Mantovani
Doutorando em Filosofia pela UFG. Bolsista CAPES.
Baixar artigo:ARISTÓTELES DESVELADO POR MARTHA NUSSBAUM: AS RAÍZES TRÁGICAS DA ÉTICA E A CONDIÇÃO HUMANA EM HANNAH ARENDT

POPPER, Karl R. O Mundo de Parmênides: ensaios sobre o iluminismo pré-socrático. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: UNESP, 2014.
Douglas Borges Candido
Graduado e Mestrando em Filosofia pela PUC-PR.
Baixar artigo: O MUNDO DE PARMÊNIDES: ENSAIOS SOBRE O ILUMINISMO PRÉ-SOCRÁTICO
Apresentamos ao público o volume VII, referente ao ano de 2015, das edições de Theoria – Revista Eletrônica de Filosofia que, a partir de agora, vem publicada semestralmente, ou seja, com dois números anuais, em julho e dezembro.
Escusamo-nos com os autores e com os leitores pela excessiva demora na publicação deste volume, mas garantimos a continuidade deste esforço de oferecer uma ágora para o debate das ideias, na busca permanente da verdade e do sentido nos mais diversos âmbitos da realidade, o que é a mola propulsora de todo o pensamento filosófico.
Contando com a gentil acolhida dos pesquisadores e demais interessados e agradecendo aos que nos confiaram seus textos para a publicação, desejamos a todos boa e proveitosa leitura.
O Conselho Editorial

Este artigo se propõe a analisar o fenômeno da fé definido como absurdo a partir da obra Temor e Tremor do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Contudo, aqui, não se pretende traçar um determinado tipo de sentimento ou comportamento o qual fosse denominado fé, pelo contrário, o intuito é justamente sublinhar a incapacidade da razão ao tentar definir logicamente esse fenômeno. Assim, o texto não tem a mínima pretensão de colocar a fé no lugar da razão, se quer simplesmente demonstrar que a razão não é capaz de abarcar todas as coisas existentes, e que essas duas categorias pertencem a âmbitos distintos. Nesse sentido, o objetivo aqui seria o de entender porque Kierkegaard define a fé como o absurdo.
Palavras-chave: Kierkegaard. Fé. Razão. Absurdo.
Vinicius Xavier Hoste
Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Espirito Santo (UFES).
Baixar artigo: FÉ E RAZÃO NO PENSAMENTO DE KIERKEGAARD

O presente artigo apresenta uma abordagem filosófica da obra de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. O objetivo do estudo é analisar a alegoria criada por Saint-Exupéry, e responder a questão da possibilidade de fazer filosofia a partir desse texto. Este estudo utilizou a metodologia da pesquisa bibliográfica, recorrendo além da obra do próprio autor, o pensamento de Luc Ferry expresso na obra Aprender a Viver, do ano de 2006, e de Jean-Philippe Ravoux, Donner um sens à l’existence, de 2008. O primeiro ponto narra um pouco da vida e da obra de Saint-Exupéry como aquele que fez de sua existência uma constante busca. No segundo, a obra é analisada em três temas interligados: primeiramente, a construção da identidade humana; num segundo momento, o encontro de significado e sentido na intersubjetividade; e por último, a morte como continuidade e retorno. No decorrer do artigo foi desenvolvida a proposta de fazer uma leitura filosófica da obra O Pequeno Príncipe, concretizando o objetivo inicial.
Palavras-chave: O Pequeno Príncipe; Identidade; Intersubjetividade; Educação; Morte.
Mauro Ricardo de Freitas
Especialista em Filosofia pela Universidade Gama Filho
Baixar artigo: UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA DA OBRA O PEQUENO PRÍNCIPE DE SAINT-EXUPÉRY

Esse texto se propõe a apresentar e discutir a racionalidade humana no âmbito da Psicologia de Senso Comum. Para esta tarefa seguiremos a argumentação de Karsten Stueber e de outros teóricos, pró e contra a assunção da racionalidade para a compreensão das ações e crenças humanas. Começaremos por mostrar que o termo racional, tal como é ordinariamente utilizado, traz consigo uma ambiguidade que tentaremos diluir. Em seguida apresentaremos resultados de experiências empíricas que atestam que o homem não age nem toma decisões embasado em parâmetros racionais. Logo após, tentaremos com Stueber e com Gigerenzer contestar os resultados de tais testes empíricos. Por fim, teceremos alguns comentários gerais acerca da racionalidade e sua importância para a Psicologia de senso comum.
Palavras-chave: Filosofia da mente; Psicologia de Senso Comum; Racionalidade
Luis Fernando dos Santos Souza
Doutorando em Filosofia pela UFC. Professor de Filosofia do IFPI.
Baixar artigo: A RACIONALIDADE NA PSICOLOGIA DE SENSO COMUM

A releitura do problema da finalidade é um tema recorrente na filosofia de Kant e do idealismo alemão. No caso da moralidade, Kant chama o sumo Bem – vínculo necessário no qual a moralidade causa a felicidade – de ‘fim último’ ou ‘fim total’ da razão prática pura. Esse fim seria atingido mediante um progresso que tende ao infinito, mostrando a incapacidade, da parte de seres racionais finitos, de realização do mesmo sem certas pressuposições prático-metafísicas, os postulados da razão prática pura. Para Schelling, por sua vez, o ‘fim último final’ ou ‘fim último definitivo’, o Eu Absoluto, também é um progresso. Uma grande diferença, todavia, é que tal progresso envolve o término, de fato, da experiência moral, uma superação da mesma, e a independência em relação à necessidade da felicidade empírica. Esse é um importante passo, para Schelling, na superação da distinção entre sujeito e objeto, que consiste em outro importante tema do idealismo alemão. Buscaremos verificar como ambos filósofos argumentam e quais os pressupostos antropológicos em jogo.
Palavras-chave: Kant; Schelling; moralidade; felicidade; fim último.
Gabriel Almeida Assumpção
Mestre em Filosofia pela UFMG.
Baixar artigo: O FIM ÚLTIMO EM KANT E NO JOVEM SCHELLING: ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS

Com a pretensão de lançar luz sobre a questão do originário da obra de arte, Heidegger, em A origem da obra de arte, faz considerações relevantes para a filosofia contemporânea, sobretudo para a filosofia estética. Entretanto, por meio da noção de ‘originário’ [Ursprung], o filósofo relaciona a questão ao problema pelo esquecimento do sentido do ser. É tendo como norte o esquecimento do sentido do ser que Heidegger vai pensar a questão do originário da obra de arte, a fim de buscar sua essência. Vale dizer que a investigação sobre “que é arte?” ou “que é uma obra de arte?” não é deve ser focada no artista e/ou espectador, como fazem as teorias modernas, mas sim na própria obra de arte. Assim, a questão que Heidegger propõe ao diálogo em seu trabalho é: O que é originário [Ursprung] da obra de arte? Ao tentar pensar essa questão, Heidegger proporciona uma reflexão com as noções de obra de arte e verdade e, ainda, ressalta a relação existente entre ambas.
Palavras-chave: Arte; originário; obra de arte; Ursprung.
Filicio Mulinari
Mestre em Filosofia pela UFES.
Baixar artigo: O PROBLEMA DO ORIGINÁRIO DA ARTE EM HEIDEGGER: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORIGEM DA OBRA DE ARTE

Busca-se neste artigo repensar as condições de produção da educação escolar na contemporaneidade, permeada pelo discurso da tecnologia e do virtual. Partindo-se das distinções entre nativos digitais e imigrantes digitais e seus modos de funcionamento frente ao virtual, e levando-se em conta considerações teóricas da Análise de Discurso de linha francesa, questiona-se a escola e o professores quanto aos usos que fazem da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Considera-se que o virtual possui um funcionamento heterárquico, descentrado e dinâmico, ao passo que a instituição escolar, constituída em moldes rígidos e pautada pela centralidade do sujeito, pela hierarquização de saberes e pela inculcação da norma, procura pedagogizar o virtual, perpetuando seu modo de lidar com o conhecimento e com os educandos, o que resulta no fracasso da adoção do virtual em seu meio. Trata-se, pois, neste caso, de questionar a instituição escola e seus modos de funcionamento em um tempo de mudança de paradigmas.
Palavras-chave: Nativos e imigrantes digitais. Virtualidade e conhecimento. Escola e poder.
Benedito Fernando Pereira
Mestre em Ciências da Linguagem e Licenciado em Letras pela Universidade do Vale do Sapucaí. Bacharel em Filosofia e Especialista em Ensino de Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre.
Baixar artigo: A EDUCAÇÃO EM TEMPOS VIRTUAIS

O artigo que segue expõe a primeira discussão de fôlego de Heidegger sobre a liberdade depois de Ser e Tempo. Ela aparece nos escritos onde o filósofo se debruça sobre a questão do fundamento, de modo a evidenciar seu horizonte de compreensão ontológico e a distanciar das tradições racionalistas e voluntaristas. Assim, o objetivo desse artigo é reconstruir a relação que Heidegger faz entre liberdade e fundamento em dois momentos: mostrar como a liberdade é um modo de ser fundamental do Dasein; e por segundo, asseverar de que modo essa liberdade é condição de possibilidade para a própria compreensão do fundamento.
Palavras-chave: Em-vista-de. Liberdade. Fundamento. Ontologia. Heidegger.
Victor Hugo de Oliveira Marques
Mestre em Filosofia. Professor da Universidade Católica Dom Bosco.
Baixar artigo: LIBERDADE E METAFÍSICA DO DASEIN

O presente texto tem o objetivo de explorar, sob a ótica da escola francesa de análise de linguagem denominada Análise de Discurso, a ocorrência, no texto O banquete, do filósofo grego Platão, de sentidos diversos para o amor. Para a empreitada ora desenvolvida, parte-se do pressuposto de que o amor é um significante que, na obra em epígrafe, reveste-se de diversos significados. Esse fato aponta para uma compreensão bastante cara à Análise de Discurso: os sentidos das palavras não são naturais, antes eles são engendrados em conjunturas históricas que se combinam com o funcionamento estrutural da linguagem.
Palavras-chave: Amor, Sentidos, Linguagem.
João Paulo Braga Floriano
Mestrando em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVAS.
Baixar artigo: O DISCURSO DE AMOR EM O BANQUETE

O conceito de ação desenvolvida por Arendt em sua obra A condição humana, é um dos conceitos centrais do seu pensamento político. A proposta deste texto é discutir esse conceito a partir das suas características fundamentais, a saber, a imprevisibilidade e a irreversibilidade.
Palavras-chave: Ação; Pluralidade; Política.
José João Neves Barbosa Vicente
Doutorando em Filosofia Pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
José Reinaldo Felipe Martins Filho
Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG)
Baixar artigo: IMPREVISIBILIDADE E IRREVERSIBILIDADE DA AÇÃO

O presente estudo visa trazer para o debate, ainda que de modo parcial, a concepção filosófica de um dos mais brilhantes e complexos filósofos brasileiros – Henrique Cláudio de Lima Vaz –, dentre outros, nos diferentes períodos históricos do ocidente. A problemática discorrida configura-se no pensar a constituição de um ethos ocidental como pressuposto imprescindível à formação do ser humano. Concerne-se a um estudo de cunho bibliográfico. Concluímos, no decorrer do estudo, uma exaustiva e profunda tentativa de resgatar os valores da tradição a fim de reconstituir a própria cultura ocidental que se tornou líquida nessa era do relativismo. Todavia, igualmente apostamos na possibilidade de se conceber a formação humana no conviver em comunidade, no interagir, no terreno da educação, como caminho de conhecimento de si e de transformação de si na pluralidade.
Palavras-chave: Educação. Filosofia. Formação Humana. Pluralidade.
Anderson Luiz Tedesco
Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. Professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina.
Roque Strieder
Doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba -UNIMEP/SP. Professor do Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina.
Baixar artigo: A FORMAÇÃO DO ETHOS OCIDENTAL A PARTIR DO PENSAMENTO DE HENRIQUE CLÁUDIO DE LIMA VAZ

O presente artigo foi construído a partir de evidências empíricas sobre as aulas de filosofia ministradas no ensino médio, da disciplina de Filosofia em uma Escola Pública da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná no ano de 2014. É uma tentativa de mostrar que, ressignificar o cotidiano, como um conjunto de acontecimentos, pode ser oportuno para que o professor de filosofia, muitas vezes tomado pelo sentimento de estrangeiridade, propor a si mesmo, um desafio filosófico, no que se refere às suas práticas pedagógicas e aos conteúdos trabalhados. Deve-se ainda, nesse contexto, considerar que a abordagem do professor, bem como a seleção de material utilizado em sala de aula, revela em boa medida o seu modo de ver as coisas, sua opção por uma maneira de filosofar. O cotidiano é sempre possibilidade de criação, é espécie de aridez em que a experiência flui livremente e o diferente se põe em evidência. Se o professor de filosofia suportar a sensação de estrangeiridade em sala de aula, pode agir de modo diferente, isto é, produzir experiência filosófica, ou seja, quando escolhe interagir com os fatos, com os acontecimentos usando-os a favor de sua prática pedagógica.
Palavras-chave: Cotidiano. Ressignificar. Aula. Experiência filosófica. Prática pedagógica.
Mauricio Silva Alves
Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor de Filosofia na Rede Estadual de Ensino do Paraná.
Baixar artigo: RESSIGNIFICAR O COTIDIANO NO ENSINO DE FILOSOFIA: O DESAFIO DO PRESENTE

Nosso objetivo é tecer considerações introdutórias e gerais de um ponto de vista histórico-filosófico quanto à construção do conceito “número-complexo”. Dito de outro modo, consideraremos a descoberta da “incomensurabilidade” ou “desproporcionalidade” entre a diagonal e os lados do quadrado, daí o surgimento de considerações filosóficas das noções de unidade, magnitude e número; a tentativa de solução de equações cúbicas, compreensão da irredutibilidade de algumas delas e o surgimento do termo “raiz imaginária”, um quase-número, um impossível; por fim, chegamos à ampla utilização das “raízes imaginárias” que precede aquela poderosa ampliação da noção de número e construção dos números complexos (a qual só mencionaremos a título de conclusão), ratificada no plano Argand-Gauss e justificada ainda uma vez por Hamilton, o qual pode ser considerado o criador-construtor desse novo conceito de número.
Palavras-chave: Aristóteles, Euclides, Cardano, Leibniz, Euler
William de Siqueira Piauí
Doutor em Filosofia pelo Dep. de Filosofia da Universidade de São Paulo (FFLCH – USP), licenciado em matemática pelo IME – USP/Unit – SE e professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Baixar artigo: UMA INTRODUÇÃO HISTÓRICO-FILOSÓFICA AOS NÚMEROS COMPLEXOS

Em 2014, a Revista Theoria entra em seu sexto ano de publicação, continuando a missão de promover o diálogo das ideias, em busca da verdade e do bem. Alegra-nos muito a contínua participação de autores e leitores de diversas partes do país, que enriquecem nossa iniciativa editorial.
Neste primeiro número de 2014, contamos com três artigos referentes ao pensamento poliédrico de Paul Ricoeur, oriundos de algumas das conferências apresentadas em setembro passado na Jornada Filosófica “O Legado de Paul Ricoeur”, realizada pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, por ocasião do centenário de nascimento do filósofo francês.
Além disso, os demais artigos abordam diversos autores clássicos e contemporâneos, de Platão a Nietzsche, de Hannah Arendt a Amartya Sen, sem faltarem acenos à filosofia analítica e ao diálogo entre filósofos e biólogos. Numa leitura transversal, questões que alguns autores levantam, outros desenvolvem, outros tentam responder, como é o caso do questionamento nietzscheano à religião cristã, que Ricoeur procura positivamente enfrentar .
Convidamos os leitores a continuarem conosco no empenho do diálogo filosófico construtivo, pois, parafraseando Ricoeur, a realidade não deixa jamais de nos interpelar e de nos fazer pensar.
O Conselho Editorial

Este estudo tem por finalidade abordar o pensamento de Paul Ricoeur em relação ao conceito de sujeito, preservando a noção por ele utilizada, de identidade, bem como a ideia de si-mesmo. Serão realizados algumas observações à filosofia do cogito, em Descartes e Nietzsche, bem como a proposta ricoeuriana da hermenêutica do si. Serão objetos de atenção mais detalhada nesta pesquisa o prefácio à obra Soi-même comme um autre (1990) e o artigo Identidade narrativa, uma vez que, esses escritos apresentam um ritmo dialético do sujeito que inclui em si mesmo o próprio outro, e que só pode ser pensado em relação com o outro. Assim, chega-se a uma discussão ética, na qual o sujeito confere sentido à sua ação.
Palavras-chave: idem, ipse, identidade narrativa, outro, ética, hermenêutica.
Leila Silvia Tourinho
Mestre em Filosofia pela PUC/SP e Professora de Filosofia da Faculdade Católica de Pouso Alegre/MG.
Baixar artigo: Sobre a questão do sujeito em Paul Ricoeur

É cada vez mais recorrente a vinculação do termo reconhecimento às teorias multiculturais. Interessado nesse fenômeno, o filósofo Paul Ricoeur (2006) descreve, em seu livro Percurso do reconhecimento, a polissemia de significados constantes na identificação de si e do outro que esse termo envolve. Para a presente análise, enfatiza-se como Ricoeur problematiza a utilização do termo reconhecimento na filosofia política contemporânea, destacando a leitura que o autor confere aos teóricos do multiculturalismo e a relação que ele denomina reconhecimento mútuo. Ao mencionar a necessidade de oferecer estatuto semelhante à concepção de conhecimento ao termo reconhecimento, Ricoeur traça sua itinerância filosófica levando em conta os significados e as utilizações desse termo presentes em dicionários, obras literárias, filosóficas, sociológicas, entre outros. A principal intenção de Ricoeur traduz-se na necessidade de pesquisar as raras experiências de paz que o reconhecimento pode promover. Diante disso, ganham espaço, em seu trajeto, as ideias de dádiva e ágape, utilizadas pelo autor como contraponto à relação mais usual que se costuma estabelecer entre reconhecimento e luta. Além dessa investigação, a análise proposta apresenta também uma introdução ao multiculturalismo e à retomada de Francis Fukuyama (1992), Charles Taylor (2000) e Axel Honneth (2003) do termo reconhecimento, que ganhou maior significação política na obra do jovem Hegel. Por fim, questiona-se o aparente contraste entre descrição filosófica e prescrição política, com base no percurso sugerido por Paul Ricoeur.
Palavras-chave: Paul Ricoeur, reconhecimento, multiculturalismo.
Daniele Pechuti Kowalewski
Doutoranda em Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora de temas relacionados a educação, multiculturalismo, processos de subjetivação e sociabilidade brasileira. Bolsista CNPq.
Baixar artigo: O multiculturalismo no percurso do reconhecimento: Indagações filosóficas de Paul Ricoeur acerca do presente

Paul Ricoeur, um dos grandes filósofos franceses do séc. XX, deu uma importante contribuição à teologia, seja pelos diálogos que estabeleceu com eminentes representantes da teologia de seu tempo, seja, principalmente, pelas contribuições que deu à exegese, através de sua hermenêutica filosófica e da forma como utilizou seus recursos no estudo de textos centrais do Antigo e do Novo Testamento. O estudo aqui proposto apresenta, numa primeira parte, alguns dos principais textos nos quais Ricoeur pronunciou-se sobre temas teológicos ou propôs comentários significativos a passagens bíblicas. Num segundo momento, à luz de uma leitura sistemática e sintética do filósofo Jean Greisch, retoma aspectos fundamentais da hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur.
Palavras-chave: Paul Ricoeur; teologia, hermenêutica bíblica; hermenêutica dos símbolos; hermenêutica dos textos.
Geraldo De Mori
Doutor em Teologia pelas Facultés Jésuites de Paris – Centre Sèvres. Professor de antropologia teológica e escatologia cristã na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE –BH), onde coordena o PPG de Teologia. Publicou: Le temps. Énigme des hommes, mystère de Dieu. Paris: Cerf, 2006.
Baixar artigo: Paul Ricoeur e a Teologia

Genericamente, foram três as categorias de seres vivos que ao conviverem com o homem desde sua origem forneceram-lhe grande quantidade de informações que, ao longo do tempo, foram se tornando conhecimento: as plantas, os animais e os próprios homens. Dessa forma, objetiva-se compreender um pouco dessa história na filosofia da antiguidade Greco-Romana, para trazer elementos que auxiliem no entendimento das questões e objetos da Biologia enquanto ciência e mesmo sobre as formas dela investigar.
Palavras-chave: História da Biologia; Biologia e Antiguidade; Biologia e Filosofia; Pensamento Clássico; Seres vivos.
Antonio Fernandes Nascimento Júnior
Doutor em Ciências (USP-Ribeirão) e Doutor em Educação para a Ciência (UNESP-Bauru). Professor Adjunto do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
Daniele Cristina de Souza
Doutoranda em Educação para a Ciência (UNESP-Bauru).
Baixar artigo: Ideias sobre os seres vivos na antiguidade: A procura de temas estruturantes da biologia contemporânea

A filosofia e a poesia participam da constituição humana e são fundamentais para a educação de uma civilização. Ambas se complementam e, de acordo com boa parte de seus conteúdos, se tornam eficientes para trabalhar o melhor dos afetos humanos. Esse texto tenta resgatar o debate entre essas duas tradições na filosofia antiga, sobretudo a que mostra um elemento comum entre os gregos, a saber, a arte da palavra. Para os gregos, a imitação e a representação, pertenciam a uma tradição. Os rapsodos, eram os interpretes dos poetas. Não encontramos mais rapsodos (nem mesmo na Grécia), sobraram os atores (profissionais e amadores). A representação (em grego: ??????????????) já não se encontra inspirada pelos “deuses” (como na antiga Grécia). No entanto, é na ressonância entre épocas distintas que se pode avaliar a importância das tradições antigas para a civilização moderna.
Palavras-chave: Íon, imitação, rapsódia, poesia.
Diogenes G. M. Silva
Doutorando em Educação pela Unicamp.
Baixar artigo: O Rapsodo inspirado e a Falso Especialista: Uma breve beitura do Íon de Platão

Pretende-se analisar a crítica de Nietzsche à reinterpretação que a religião cristã dá ao sofrimento que leva o homem a uma fuga de si mesmo em busca de uma realidade mais distante da vida. Centrar-se-á, nesse artigo, a leitura da obra Humano, demasiado humano de Nietzsche que é uma obra que se apresenta como um projeto de crítica à filosofia metafísica e expõe a religião cristã como parte desta problemática.
Palavras-chave: Religião; metafísica; procedimento científico; sofrimento.
Tiago Eurico de Lacerda
Doutorando em Filosofia pela PUC-PR
Baixar artigo: A análise de Nietzsche sobre a reinterpretação que a religião Cristã dá ao sofrimento

De um modo geral, a questão da responsabilidade em Arendt aparece de forma clara a partir da sua obra Eichmann em Jerusalém, mas o nosso estudo percorrerá as análises da autora sobre esse assunto a partir da coletânea Responsabilidade e julgamento. É nessa coletânea que, ao aprofundar sobre o tema da responsabilidade, Arendt o relaciona de modo claro com a moral e a lei.
Palavras-chave: Política; Julgamento; Moral; Lei.
José João Neves Barbosa Vicente
Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Professor Assistente de Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
Marilane Ramos Luz
Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
Baixar artigo: Arendt e a questão da Responsabilidade

O presente trabalho objetiva evidenciar a violência estatal em trechos da obra de Hannah Arendt e Michel Foucault. Da primeira será utilizada a parte dois do capítulo V, intitulada “O declínio do Estado-Nação e o fim dos Direitos do Homem” presente no livro “Origens do Totalitarismo”. Quanto ao segundo, a reflexão tomará a Aula de 17 de março de 1976, constante do curso “Em Defesa da Sociedade”, proferido no Collège de France. Ao se colocar em relevo o que cada autor apresenta como a manifestação do direito de espada do soberano, pretende-se apontar as semelhanças e as diferenças, estabelecendo-se, assim, um possível diálogo entre autores que, embora contemporâneos, desenvolveram suas obras de forma independente.
Palavras-chave: Michel Foucault; Hannah Arendt; violência estatal; biopolítica.
Priscila da Silva
Mestranda em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Baixar artigo: Reflexão acerca da violência estatal: Possível articulação entre Hannah Arendt e Michel Foucault

Neste artigo, eu argumento contra a tese de que os juízos causais são influenciados pelos juízos morais. Essa tese foi defendida por filósofos experimentais tais como Knobe & Fraser (2008) e Knobe & Hitchcock (2009) por meio de experimentos baseados em vinhetas. A minha resposta contra esses filósofos é que há uma explicação pragmática do porquê de os experimentos realizados apontarem para a conclusão de que os juízos causais são influenciados por juízos morais e que a verdade dessa tese depende de uma confusão comum feita pelas pessoas ao usar a linguagem natural de modo não rigoroso.
Palavras-chave: Juízos Causais; Juízos Morais; Filosofia Experimental.
Lucas Miotto
Mestrando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio.
Baixar artigo: Juízos Causais sem Normas

O presente trabalho é um estudo preliminar do diálogo entre dois teóricos liberais e alguns de seus conceitos, a saber, a concepção de justiça distributiva em Rawls e Sen. Fizemos uma breve exposição das duas concepções de justiça distributiva, com o intuito de ressaltar tanto uma divergência pontual no que se refere aos elementos quantificantes das duas concepções, quanto para demonstrar que a proposta de Sen se coloca como uma extensão, como correção do discurso rawlseano, que supera ao menos um dos problemas enfrentados por Rawls.
Palavras-chave: Amartya Sen. John Rawls. Bens primários. Capacidade.
Danillo Moretti Godinho Linhares
Mestrando em Ética e Epistemologia pela Universidade Federal do Piauí.
Aryane Raysa Araújo dos Santos
Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí.
Baixar artigo: Amartya Sen e John Rawls: Um diálogo entre a abordagem das capacidades e a Justiça como equidade

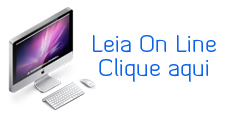
A Filosofia De Deleuze é uma Filosofia dos Mundos Impossíveis?
IS THE DELEUZE´S PHILOSOPHY A PHILOSOPHY OF THE IMPOSSIBLE WORLDS?
O artigo trata da problematização da filosofia de Deleuze a partir da noção de mundos impossíveis. Sua filosofia ao pressupor que todos os mundos possíveis devem fazer parte do mesmo mundo ou a sua tentativa de inclusão e coexistência de todos os mundos em um mesmo mundo é uma filosofia dos mundos impossíveis?
Palavras-chave: Deleuze, mundos impossíveis, mundos possíveis, arte, virtual, Leibniz.
Jairo Dias Carvalho
Doutor em Filosofia pela UFMG. Professor do Programa de Mestrado em Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia.
Baixar artigo: A Filosofia De Deleuze é uma Filosofia dos Mundos Impossíveis?

Nesse artigo é inicialmente feita uma breve reconstrução do problema humiano da indução. Essa reconstrução é seguida de uma exposição crítica de algumas importantes tentativas de solucioná-lo. No final é sugerida, em seus traços gerais, uma nova e supostamente mais plausível forma de solução-dissolução analítico-conceitual para o problema.
Palavras-chave: análise, epistemologia, Hume, indução.
Claudio Ferreira Costa
Doutor em Filosofia. Professor Associado do Departamento de Filosofia da UFRN.
Baixar artigo: Natureza, Cultura, Tecnologia e Arte

O ensaio a seguir se propõe relacionar os quatro aspectos elencados no título para refletir sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento da arte. O texto busca apresentar a tecnologia como manifestação que permeia diversas culturas e remete-se mesmo à natureza humana. Os conceitos apresentados esperam dar conta de explicar tal processo sem a tradicional dicotomia cartesiana entre natureza e cultura, e entre razão e emoção. A profundidade do questionamento sobre a tecnologia feita por H. Maturana possibilita o encontro com as idéias de M. Heidegger sobre o papel dessa tecnologia para o desenvolvimento humano e da natureza como um todo. A cultura então pode ser entendida como ambiente construído pelo homem em seu viver. E a arte, ou a possibilidade estética, encontra em tal descrição uma função central. Para os dois filósofos citados a arte parece de fato possibilitar a continuação do desenvolvimento de uma cultura e a saída para sua não estagnação.
Palavras-chave: Arte e tecnologia; estética naturalizada; enacionismo.
André Luiz Gonçalves de Oliveira
Mestre em Filosofia pela UNESP e Doutorando em Arte pela UnB. Professor da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE.
Baixar artigo: Natureza, Cultura, Tecnologia e Arte

Este artigo tem por objetivo explorar a proposta do filósofo americano Matthew Lipman a respeito do ensino de
Filosofia para crianças. Em um primeiro momento, faz considerações históricas sobre a vida e a obra de Lipman,
destacando-se como se dá sua proposta. Um aprofundamento da metodologia lipmaniana explana sobre os
pontos essenciais da proposta de Lipman, para, em seguida, ser feita uma análise da influência de um dos mais
importantes filósofos gregos, Sócrates, visto que foi o primeiro pensador a se preocupar com a essência do ser
humano. Quando se fala da proposta de Lipman, toca-se justamente nessa procura de Sócrates. Por fim, este
artigo aborda a criança, o ato de admiração que existe desde a tenra infância e o ensino de Filosofia no Ensino
Fundamental. Tais pressupostos têm que ser levados em conta quando se propõe a Filosofia no Ensino
Fundamental.
Palavras-chave: Lipman. Criança. Filosofia. Ensino Fundamental
Daniel Santini Rodrigues
Mestre e Doutorando em Educação pela Universidade São Francisco (USF). Professor do Bacharelado em Filosofia da Faculdade Católica de Pouso Alegre.
Edvaldo Ribeiro de Souza
Especialista em Filosofia e Ensino de Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR). Bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (FACAPA). Professor de Filosofia, Sociologia e História no Ensino Médio (Colégio Santa Ângela – Paraisópolis-MG).
Baixar artigo: A Filosofia no Ensino Fundamental Segundo a Proposta de Matthew Lipman

O presente artigo discorre sobre a concepção educacional desenvolvida por Tomás de Aquino (1224/25–1274) em sua obra intitulada De Magistro (Sobre o Mestre) ou Sobre o ensino. Deste modo, após a exposição sucinta do conteúdo geral do De Magistro, ressalta-se, a partir da referida obra, a compreensão de ensino desenvolvida pelo Doctor Angelicus e o papel exercido pelo aluno dentro do processo de ensino/aprendizagem, como ainda a missão própria do professor na práxis educacional.
Palavras-chave: Tomás de Aquino – De Magistro – Educação – Professor – Aluno.
Rodrigo Aparecido de Godo
Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Baixar artigo: A Concepção Educacional de Tomás de Aquino: Um Estudo do De Magistro

A questão estética figura entre os elementos menos estudos no pensamento wittgensteiniano. Porém, estudos recentes apontam para a importância da temática para uma correta interpretação da atividade filosófica do autor vienense. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar o espaço que a estética ocupa na filosofia do jovem Wittgenstein. No Tractatus a estética surge indiretamente e rompe de maneira surpreendente dentro do aforismo 6.421, o qual afirma que “ética e estética são um”, em seguida a única coisa que resta é o silêncio.Ainda assim, aproximando esta leitura a leitura dos Diários, é possível estabelecer relações e compreender qual seja o espaço que a estética ocupa neste primeiro momento na obra do autor. É desta confluência (entre Tractatus e Diários), que a questão estética recebe luz. Nestes primeiros escritos, quando Wittgenstein emprega o termo
estética, está se referindo a um modo específico de olhar. Trata-se de ver e de contemplar o mundo como uma verdadeira obra de arte. Segundo o filósofo, só é possível ver o mundo como obra de arte se ele for visto de uma maneira particular, ou seja, sub specie aeterni (sob a forma do eterno). Trata-se de captar e contemplar o mundo a partir do exterior, fora do tempo e do espaço, o que possibilita uma transformação na maneira de ver. Isso corresponde a dizer que o ponto de vista estético se atinge mediante um distanciamento dos objetos em geral, uma interrupção temporal, cuja finalidade consiste na abolição de todo o mecanismo conceitual que sobre eles pesa enquanto objetos do entendimento. O resultado desta atitude é a felicidade, pois, segundo as considerações de Wittgenstein, “é assim o mundo do homem feliz”.
Palavras-chave: Estética. Olhar. Mundo. Transformação.
Edimar Inocêncio Brígido
Mestrando em Filosofia pela PUCPR. Professor de Filosofia e Ética no Centro Universitário UNICURITIBA.
Baixar artigo:A Estética e o Olhar Sub Specie Aeterni na Filosofia do Jovem Wittgenstein

O presente artigo tem como objetivo descrever o fetichismo marxiano em seus aspectos “objetivo” e “subjetivo”. Para isso, seguirei a exposição de Karl Marx (1818-1883) em O Capital (1867) no qual ele descreve, num primeiro momento, o conceito de mercadoria para em seguida descrever o fetichismo da mercadoria. Além disso, descreverei como o termo fetichismo é tratado em seu aspecto “subjetivo” na obra de Marx os Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844. Mediante essa descrição, tento sugerir os seguintes aspectos gerais do fetichismo marxiano: [1] Há uma ênfase em demonstrar a sua manifestação mais na produção, ou no que eu denominei de aspecto “objetivo” do fetichismo, do que no consumo. [2] Há uma menção, não muito explícita, da manifestação dele na consciência das pessoas ou no que eu denominei de aspecto “subjetivo” do fetichismo. [3]
Ele está vinculado à ideia de “naturalização”. [4] Ele configura-se num tipo de teoria econômica fetichizadacontraposta a uma teoria econômica dialética do valor.
Palavras-chave: Fetichismo; Mercadoria; Fetichismo da Mercadoria; Karl Marx; Teoria do Valor.
Fábio César da Silva
Mestre em Estética e Filosofia da Arte pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Minas Gerais, Brasil.
Baixar artigo: O Fetichismo Marxiano

O artigo tem por objetivo apresentar alguns elementos gerais da filosofia moral kantiana para em seguida defender a tese de que o fundamento da dignidade humana está na capacidade do indivíduo de propor-se fins e não na sua capacidade de autonomia. Para tanto propõe-se uma leitura mais ampla da teoria de Kant buscando elementos, muitas vezes ignorados, na interpretação do filósofo alemão.
Palavras-chave: Dignidade humana, Kant, pessoa, respeito.
Lucas Mateus Dalsotto
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL) na Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Odair Camati
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL) na Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Baixar artigo: Dignidade Humana em Kant

Este artigo investiga o papel que virtudes epistêmicas desempenham na epistemologia de Alvin Plantinga e em que medida a teoria da função própria de Plantinga pode ser considerada como estando inserida no campo da epistemologia da virtude. Procura-se realizar esse objetivo através de comparação entre o papel que virtudes epistêmicas desempenham em sua teoria do conhecimento com o papel que elas desempenham nas epistemologias de Ernest Sosa e Linda Zagzebski, cujos modelos de epistemologia da virtude são exemplos paradigmáticos das versões confiabilista e responsabilista, respectivamente.
Palavras-chave: Alvin Plantinga; Ernest Sosa; Linda Zagzebski; Epistemologia da Virtude; Virtudes
Epistêmicas.
Felipe Mendes Sozzi Miguel
Mestrando em Filosofia pela PUCRS.
Baixar artigo: Virtudes Epistêmicas na Epistemologia de Alvin Plantinga

O presente trabalho versa sobre o papel da metáfora no pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.
Inicialmente abordada aqui na sua relação com a verdade, a metáfora se destaca de uma função meramente ornamental no texto, e, ao mesmo tempo em que procura colocar-se numa relação de tensão com o pensamento tradicional da Filosofia, busca, a partir do lugar que lhe foi concedido como ornamento em certa medida dispensável e do movimento de afastamento que realiza ao distanciar-se da noção de verdade, a metáfora investiga novas perspectivas e forja novas formas do pensamento.
Palavras-chave: Nietzsche, Metáfora, Linguagem, Genealogia, Verdade.
Guilherme Lanari Bó Cadaval
1Graduado e Mestrando em Filosofia pela UFRJ. E-mail: guilherme.bo@gmail.com.
Baixar artigo: O Lugar da Metáfora

Considere uma sentença no modo indicativo adequada para fazer uma afirmação: “Nós estaremos em casa por volta das dez”, “Tom preparou o jantar”. Ligue uma cláusula condicional a ela, e você terá uma sentença que faz uma afirmação condicional: “Nós estaremos em casa por volta das dez se o trem chegar na hora”, “Se Mary não preparou o jantar, Tom preparou”.
Matheus Silva
Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Baixar artigo: Condicionais

LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp.
Pedro Merlussi
Mestrando em Lógica e Epistemologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bacharel em Filosofia
pela Universidade Federal de Ouro Preto.
Baixar artigo: A Survey of Metaphysics
